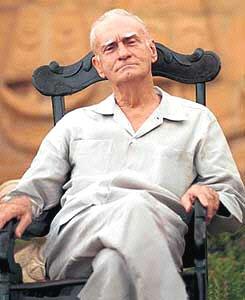De alcunhas, apelidos, apodos e similares - por Claudio Costa
Existem apelidos cuja origem são óbvias: "Leo", de Leonardo; "Kiko", de Francisco; "Zé" de José; "Bolão" para quem é gordo, etc.
Mas outros epítetos, a gente nem imagina como nasceram.
O mais legal, pra mim, é assistir, ao vivo e a cores, o surgimento de um epônimo, não é? E o melhor de tudo, o que parece impossível, é ver o prosônimo brotar, saber o por quê de sua adoção e... esquecer-se o nome do portador do dito cujo! Aí, sim, o acessório se torna o principal!
Pois não é que eu tenho um caso assim, verídico de jurar de pé junto que é verdade?
Duvide quem quiser, dou este direito: afinal, é na dúvida que se avança na ciência, dizem os cientistas. Os magistrados decidem: in dubio, pro reo. Já o Descartes concluiu: Cogito, ergo sum - mudado para dubito, ergo sum por alguns filósofos metidos a psicanalistas.
Digressão minha, bem sei, mas as associações pululam mais rápidas que os dedos que batucam este teclado aqui. Olho pro texto que surge na minha frente antes que saiba bem o que estou a escrever. Será efeito da sexta-feira que se aproxima? Taquipsiquismo?
Bom, voltemos ao caso da alcunha que tomou conta do dono e, hoje, não me deixa recordar seu nome de batismo.
Aconteceu no meu tempo de colégio interno, lá nas alturas da Serra do Caraça.
Dormíamos em dormitórios coletivos, uns 80 em cada um, terceiro andar do antigo prédio que, hoje, é só ruínas e museu.
Parece que os padres imaginavam que a gente era anjo, pois só tinha uma - eu disse "uma" - casinha maior. Você não sabe o que é? Apenas designação eufêmica para privada, retrete, vaso sanitário, trono, latrina, só isso!
Casinha menor tinha umas 8 - eu disse "oito", pros 160 jovens que dormiam lá em cima! Você já deduziu o que é casinha menor, né? Para os menos rápidos nas deduções lógicas e ilações fáceis explico: mictório, mijadouro, lugar pra fazer xixi! Até pra essas coisas se arranjaram apodaduras, flagra?
Então, continuemos.
Certa noite, um de nossos colegas estava meio que de piriri - ah, não me peça pra explicar o que é isso, senão esse caso não anda!
Acontece que outros alunos sofriam do mesmo mal e a fila crescia em frente à casinha maior! Descer três andares, à noite, num frio danado, nem pensar! Como resolver o premência evacuatória? O cólon descendente abastecia a ampola retal que, repleta, pressionava o esfínter e... (pára, isso aqui não é aula de fisiologia do intestino grosso! conta logo o caso, sô!)
Tá bom...
A necessidade é a mãe de todas as invenções, disse alguém. Se não disse, digo eu. O que fez o nosso colega?
Voltou à sua cama e abriu a pasta onde guardava sua correspondência - naquela época ainda se escreviam cartas. À tarde, rabiscara uma longa missiva pra família dando notícias, pedindo dinheiro e doces, etc. Faltava apenas colocar o selo no envelope já sobrescrito.
Que fez?
Agachou, despiu a bunda o estrito necessário e depositou no envoltório pardo a produção intestinal prestes a escorrer-lhe pernas abaixo. Com as folhas da carta, fez uma precária higiene loca.Tudo feito com discrição - só não controlou o odor que fez os vizinhos sonolentos desmaiarem de vez.
A tarefa a seguir era: como se livrar daquela "encomenda"?
Lembrem-se de que estávamos no terceiro andar?
Eureka! Pé-ante-pé o dito colega encaminhou-se à janela mais próxima e lançou na escuridão da noite o envelope devidamente repleto.
Dormiu em paz!
Dia seguinte, cedinho, após o café-da-manhã, saímos do refeitório e fomos para o pátio interno do colégio. Era o momento das brincadeiras, correrias, algazarras, idas às "casinhas" antes de subir para os salões de estudo.
Fila indiana, demandamos o pátio.
Eis que, bem ali no chão, rente à porta, banhado pelo sol radiante da manhã, lá estava o envelope pardo, semi-aberto, expondo a "obra" lançada na véspera. Minha imaginação de hoje me força a dizer que as moscas se locupletavam e zumbiam felizes.
Risos, espanto, caras de nojo.
Alguns, narinas tapadas, aproximaram-se e conseguiram ler:
"Remetente: fulando de tal".
A notícia se espalhou. Foi fulano! Este, a princípio, negou. Mas a prova estava lá, legível, nome e sobrenome!
E nasceu o apodo!
Daí pra frente, fulano só era chamado de "Remetente". No começo, não atendia, mas depois... até os padres aderiram. Enfim, a capitulação: solidificou-se o cognome; não houve retorno e meu colega passou a se chamar "Remetente". Ele próprio se apresentava assim aos novatos.
O nome próprio se perdeu na poeira do tempo.
Até hoje.
Cláudio Costa é médico, Coord. Resid. Psiquiatria da Infância e Adolescência
FHEMIG-Belo Horizonte-MG